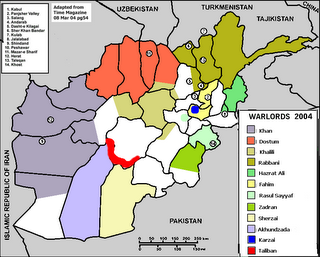Nos idos anos 80, houve uma ocasião em que, na anarquia reinante no Líbano, onde as facções guerrilheiras se tinham habituado a raptar ocidentais – de preferência anglo-saxónicos – para se financiarem e ganharem notoriedade, houve um desses grupos, possivelmente mais imaginativo e inovador que se lembrou de raptar um diplomata soviético, talvez para experimentar novos mercados.
Nos idos anos 80, houve uma ocasião em que, na anarquia reinante no Líbano, onde as facções guerrilheiras se tinham habituado a raptar ocidentais – de preferência anglo-saxónicos – para se financiarem e ganharem notoriedade, houve um desses grupos, possivelmente mais imaginativo e inovador que se lembrou de raptar um diplomata soviético, talvez para experimentar novos mercados.Reza a história subterrânea da espionagem que, naquelas circunstâncias, onde nunca era difícil saber quem tinha sido o autor da proeza mas onde era quase impossível localizar o paradeiro do refém, os serviços secretos soviéticos adoptaram uma técnica nova, também experimental, enviando diária e consecutivamente ao líder daquele grupo mais inovador as cabeças dos seus adjuntos, até este proceder à libertação do diplomata raptado.
Numa lógica de argumento de filme de acção, daqueles com Steven Seagal ou Jean Claude Van Damme (não totalmente descabida no ambiente que se vivia no Líbano daquela época), o terrorista chefe, teria ficado aterrorizado com a execução dos seus adjuntos e, cobarde, libertou o refém. Não se sabe se chegou a haver aquela cena final de pancadaria, o bom contra o mau com muitos golpes de karate…
Mais sobriamente, o que os soviéticos transmitiram ao tal líder era que – porque a União Soviética era uma ditadura – eles eram imunes às pressões da opinião publica doméstica que inibia os seus colegas ocidentais e que seria a cabeça dele que responderia pela do diplomata raptado. Se o mandasse executar, a União Soviética poderia viver com isso, mas o líder terrorista garantidamente não.
Será talvez a recuperação dessa espécie de impermeabilidade à opinião publica (russa, no caso), ou a manutenção da reputação de dureza granjeada no Médio Oriente naquela época, que levou o presidente Putin a anunciar publicamente as suas directivas aos seus serviços de segurança (FSB, herdeiro do famoso KGB), estabelecendo penas de talião (retribuição) aos responsáveis pela execução recente de três funcionários russos no Iraque.
Mas parece que é Israel que se apresta a criar doutrina nova sobre todo este assunto de reféns, e uma lei de talião mais elástica, ao propor-se executar o primeiro-ministro da autoridade palestiniana à troca de um soldado israelita raptado. Mesmo admitindo que Israel, com os conhecimentos da sua excelente contra-espionagem, saiba o que está a fazer, parece que existe uma certa falha de proporcionalidade na retaliação encontrada.
É uma atitude que, mesmo que tenha um acolhimento favorável na opinião publica doméstica, é capaz de não compensar pelos impactos negativos que possa gerar nas opiniões publicas espalhadas pelo resto do mundo. Por exemplo, no Ocidente cristão, que já parece convencido que o mundo muçulmano é algo alienígena, também parece que se forma cada vez mais a opinião que o estado judeu também o é.